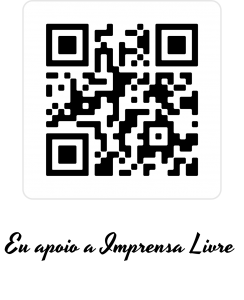Não é possível atravessar o fim de um ano e o começo de outro sem perceber que o fosso da desigualdade só aumenta. Ano termina, ano começa, e essa distância se alarga como uma ferida aberta no asfalto da cidade. A cada ciclo que se fecha, um mar de pessoas é empurrado para a informalidade, como quem empurra o próprio destino. É ali que a vida acontece para muitos: sem contrato, sem garantia, mas sustentada por coragem e dignidade. Hoje, essas relações precárias não são exceção, são a regra que mantém de pé uma parte significativa da sociedade.
No campo da cultura, essa realidade se aprofunda ainda mais. Trabalhadores e trabalhadoras da cultura navegam diariamente nesse mar revolto da informalidade, onde não há porto seguro e sobreviver já é, por si só, um ato de resistência. Entre eles estão os ambulantes: homens e mulheres que chegam com suas caixas, seus isopores, seus carrinhos, para garantir o pão do dia nos eventos que celebram a música, o samba, o encontro popular. Eles enfrentam todas as dificuldades possíveis, quase sempre invisíveis aos olhos de quem apenas consome a festa.
Ontem estive na última edição do ano da Segunda de Vagabundo, um evento que nasceu da raça, da força de quem faz cultura com as próprias mãos. Realizado no bairro das Rocas, território que carrega a alma do samba em Natal, berço das escolas que fazem o carnaval pulsar, o evento é expressão viva de resistência cultural, sustentado pelo esforço coletivo e pela paixão de quem insiste em criar, mesmo diante da escassez.
Sabemos o quanto é difícil realizar eventos culturais de forma independente em uma cidade onde o poder público — seja municipal ou estadual — chega a atrasar por meses, às vezes por mais de um ano, o pagamento dos cachês dos artistas. Essa precarização atravessa toda a cadeia cultural. Mas a realidade que ouvi ontem ali doeu de forma ainda mais concreta.
Pessoas que vivem do trabalho ambulante relataram que, para estarem nas redondezas do evento, são obrigadas a pagar R$ 100,00, independentemente do seu potencial de venda. Cerca de quarenta parceiros, cada um com suas limitações, cada um lutando para tirar o mínimo do dia, precisariam arcar com essa taxa. Além disso, ficariam separados por grades, invisibilizados, isolados do público que ocupa um espaço que é — e deveria continuar sendo — público. Espero, sinceramente, que essa informação não corresponda à realidade.
É evidente que um evento tem custos: infraestrutura, banheiros químicos, limpeza e organização. Contribuir para garantir essas condições é legítimo, sobretudo quando o poder público se omite e não assegura o mínimo necessário. O que precisa ser questionado é quando essa cobrança se transforma em mais um mecanismo de exclusão, tornando-se pesada demais para quem já vive no limite. Quando a taxa inviabiliza o trabalho de quem depende daquele dia para garantir o sustento, a desigualdade deixa de ser abstrata e passa a ter rosto, corpo e um carrinho empurrado em silêncio.
Muita gente passa, dança, canta, sorri. Mas será que todos enxergam essa realidade? Será que percebemos quantas pessoas são empurradas para as margens enquanto a festa acontece? Para muitos, o direito de existir naquele espaço é negado de forma silenciosa, cercado por grades que vão além do ferro.
Eu não consigo silenciar. Fui a um evento para celebrar, para me alegrar, mas não posso permanecer imóvel diante dessa realidade. Não quero mais um ano novo repetindo as mesmas injustiças antigas, naturalizadas como se fossem parte da paisagem. É tempo de virar o jogo, de olhar para os lados e de escolher de que lado estamos.
A pergunta segue ecoando, no compasso do samba e da vida: de que lado você samba?