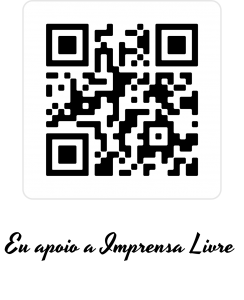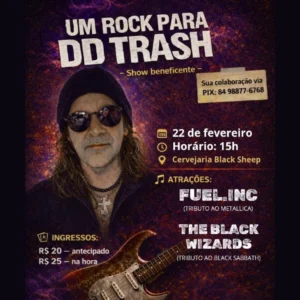As Festas Juninas sempre foram, em nossa casa, mais que tradição — eram um verdadeiro encantamento. Junho não apenas chegava, ele desabrochava no quintal, na sala, na cozinha, na alma da gente. Era como se a casa se transformasse num palco iluminado pelas bandeirinhas, pelas vozes das crianças e pelo cheiro de milho cozinhando no fogão.
Lá em casa, tudo conspirava a favor da celebração. Mamãe, que fazia aniversário no dia 8, inaugurava o mês com alegria e quitutes. Depois, chegou Maria Clara, com seu aniversário no dia 7, trazendo ainda mais doçura a esse tempo já tão doce. Mamãe era devota de Santo Antônio, e em honra a ele me deu o nome: Fernando Antônio — como quem grava no filho a esperança, a fé e o encanto do santo casamenteiro.
A costura era uma extensão do corpo e do coração de mamãe. Em junho, a máquina não parava: era pano pra lá, retalho pra cá, linha correndo ligeira entre os dedos, enquanto a filharada se metia a dar pitaco no corte das roupas de quadrilha. Mamãe, uma verdadeira estilista, confeccionava nossas roupas para dançar nas escolas e nos arraiais da vila, moldando-as com suas mãos talentosas e nossa algazarra de filhos. Quando soube que meu neto customizou seu próprio colete para dançar na escola, uma onda de emoção me tomou — era como se o tempo tivesse feito um laço de fita entre gerações, um laço junino, colorido e resistente.
Na vilinha em que morávamos, junho começava cedo. No dia 1º, já se penduravam as primeiras bandeirinhas, confeccionadas com as folhas dos jornais e revistas, sinalizando que a grande festa havia começado. E a fogueira? Ah, a fogueira era erguida com solenidade nas vésperas e nos dias dedicados aos santos — nenhum era esquecido: Santo Antônio, São João, São Pedro. Todos tinham seu fogo e sua festa.
Durante todo o mês, vendíamos fogos. Os lucros, claro, viravam fogos de novo! Mamãe adorava os mijões, as cobrinhas, os chuveirinhos, os chumbinhos e as estrelinhas. E, conforme a gente ia crescendo, os traques e até umas bombas apareciam, tudo supervisionado com aquele olhar entre o severo e o cúmplice. Soltar fogos era um ritual, uma coreografia de luz e coragem.
A trilha sonora era sagrada. Desde cedo, o rádio se encarregava de espalhar pelo ar o som de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Trio Nordestino. Em 1972, papai chegou em casa com uma radiola pequena e um punhado de discos. Foi como se tivesse trazido o próprio São João para dentro da sala. Até então, dependíamos do rádio; a televisão só chegaria no final daquele ano.
A festa se estendia além das paredes de casa. A igreja de São Sebastião era nossa referência espiritual, e a celebração ganhava um tom de fé. Mas a festa de São Pedro, no fim do Alecrim, era a nossa queridinha — figurinha carimbada no nosso calendário de felicidade.
E o milho? Não era só ingrediente — era protagonista. Ir à feira com mamãe era uma cerimônia: ela apalpava espiga por espiga, examinando-as com a perícia de quem conhece a alma do cereal. Comprava uma mão de milho — umas cinquenta espigas! — e levávamos para casa. A criançada logo se encarregava de tirar as palhas e os cabelos. E, quando encontrávamos uma “bonequinha de milho” — aquele broto com cabelinhos finos — era uma festa dentro da festa.
Separar os grãos do sabugo era missão para papai e mamãe. A turminha se envolvia na primeira etapa e depois era liberada. O moinho de mão entrava em ação e todo mundo queria ajudar. Cleinha, minha irmã, assumia a supervisão na ausência de mamãe, que voltava à máquina de costura, mas sempre de olho nos ajudantes da cozinha.
Quando a canjica e a pamonha começavam a ser cozinhadas, o aroma tomava conta da casa. A gente disputava a colher de pau e a raspinha da panela. O doce mais gostoso era aquele “roubado” com permissão.
Crescemos, mas a tradição foi passada adiante. Já com a família formada, eu e Rosi sempre incentivamos esse momento. Foi quando nossos filhos — Vinicius, Nanda e Maria — organizaram o Arraiá Pé na Bunda, no Conjunto Panatis II, na rua de casa, na Alcantaras, 2546. Juntavam, meninos e meninas da redondeza, e tudo do meu tempo de infância se revivia com eles como protagonistas. O tempo passa, e as coisas fascinantes vêm com a gente.
Esses momentos coloridos seguem vivos em nós. No último dia 28, véspera de São Pedro, revivi tudo isso. Fui a dois arraiais: o de papai, na Casa Anos Dourados, e o do meu neto Martin, na escola. Papai, com seu pandeiro, acompanhava o cantor em perfeita harmonia — o brilho nos olhos dizia tudo. Debaixo de uma chuva leve, vi Martin dançar com seus coleguinhas, e reconheci nele o mesmo brilho, a mesma alegria que um dia também foi minha.
As bandeirinhas ainda tremulam no meu coração. Essa festa me apaixona desde sempre. Ela é memória, presença e esperança.
Isso aqui era — e é — bom demais. A alegria da festa ainda nos contagia, com cheiro de milho, riso de menino e rima que não se esvazia. Que venham outros junhos, outras danças, e que a fogueira nunca se apague no nosso peito.